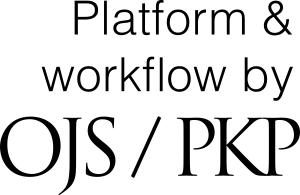Understanding the family of the physically disabled child
DOI:
https://doi.org/10.7322/jhgd.19782Keywords:
Family, Children, Chronic Childhood Encephalopathy, Physically disabled, Familial roleAbstract
This descriptive, qualitative study aimed at identifying how low-income families manage to restructure themselves after giving birth to a child who is physically disabled due to Chronic Childhood Encephalopathy. Parents (n=11) from eight nuclear families with a physically disabled child attending a physiotherapeutic clinic/school in Salvador (Bahia, Brazil) were selected for semi-structured interviews followed by a socioeconomic and cultural survey. Through content analysis, data were grouped into eight thematic axes showing that among the many difficulties faced by those families were the loss of the object of desire, a decrease in income and social contacts, and emotional imbalance, which comprised the internal and external factors both contributing to an increased family stress and exerting heavy influence on family interactions. Families were shown to face their adversity by devising strategies for adaptation and solution seeking. It could be concluded that new ways of restructuring took place so that balance could be kept. A greater family and societal mobilization is needed towards the creation or support of public policies designed to validate the physically disabled as subjects and citizens. Given the importance of the matter and the paucity of studies in the field, further research should be carried out on the dynamics of family behavior for a better evaluation of the impact of physical disability on family structure.References
Sassaki RK. Como chamar os que têm deficiência? [Acesso em 20 maio 2003]. Disponível em: http://www.educacaoonline.pro.br/art_como_chamar_as_pessoas.asp?f_id_artigo=579.
Caiado K. Concepções sobre deficiência mental reveladas por alunos concluintes do curso de pedagogia: formação do professor em educação especial. Temas Desenvolv. 1996;5(26):31-7.
Silva NLP, Dessen MA. Crianças com síndrome de Down e suas interações familiares. Psicol Reflex Crít. 2003;16(3):503-14.
Cavalcanti F. Pessoas muito especiais: a construção social do portador de deficiência e a reinvenção da família. Rio de Janeiro: Fiocruz; 2003.
Sassaki RK. Quantas pessoas têm deficiências?[Acesso em 4 maio 2002]. Disponível em: http://www.educacaoonline.pro.br/art_quantas_pessoas_tem_deficiencia.asp?f_id_artigo=65
IBGE. Censo Demográfico 2000. Rio de Janeiro; 2002 [Acesso em 2 fev 2003]. Disponível em: http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/20122002censo.shtm.
Figueira E. Conceito e imagem social da deficiência: primeira parte. Temas Desenvolv. 1995;4(24):47-50.
Figueira E. Conceito e imagem social da deficiência: segunda parte. Temas Desenvolv. 1995;5(25):35-8.
Figueira E. Conceito e imagem social da deficiência: terceira parte. Temas Desenvolv. 1996;5(26):38-41.
Carneiro S. O que querem os deficientes? Temas Desenvolv. 1995;4(24):19-25.
El-Khatib U. As dificuldades das pessoas portadoras de deficiência física: quais são e onde estão [dissertação]. São Paulo (SP): Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo; 1994.
Esteves N. Serviço social na paralisia cerebral. In: Lima CLA, Fonseca LC. Paralisia cerebral: neurologia, ortopedia, reabilitação. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan; 2004. p. 227-233.
Petrini JC. Notas para uma nova antropologia da família In: Petrini JC, Moreira LVC, Alcântara MAR. Família XXI: entre pós-modernidade e cristianismo. São Paulo: Companhia Ilimitada; 2003. p. 71-105.
Piovesana AMSG. Encefalopatia crônica: paralisia cerebral: In: Fonseca OLF, Pianetti G, Xavier C, editores. Compêndio de neurologia infantil. Rio de Janeiro: Medsi; 2002. p. 825-38.
Goffman E. Estigma: notas sobre a manipulação da identidade deteriorada. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan; 1988.
Buscaglia L. Os deficientes e seus pais: um desafio ao aconselhamento. São Paulo: Record; 2002.
Guimarães E. Família e dinâmica da socialização. Veritati. 2002;2(2):55-64.
Berthoud CME. Formando e rompendo vínculos: a grande aventura da vida: ensaios sobre a formação e rompimento de vínculos afetivos. In: Browberg GH, Borrego O, organizador. Ensaio sobre formação e rompimento de vínculos afetivos. Taubaté: Cabral; 1997. p. 12-42.
Marujo H. As práticas parentais e o desenvolvimento sócio-emocional. In: Marujo H. Família: contributos da psicologia e das ciências da educação. Lisboa: Educa; 1997. p.129-41.
Bastos AC da S. O trabalho como estratégia de socialização na infância. Veritati. 2002;2(2):19-38.
Minuchin P, Colapinto J, Minuchin S.Trabalhando com famílias pobres. Porto Alegre: Artmed; 1999.
Castro AE, Piccinini CA. Implicações da doença orgânica crônica na infância para as relações familiares: algumas questões teóricas. Psicol Reflex Crít. 2002;15(3):625-35.
Sprovieri MH, Assumpção Júnior F. Dinâmica familiar de crianças autistas. Arq Neuropsiquiatr. 2001;59(2):230-7.
Minayo MCS. O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde. São Paulo: Hucitec; 1994.
Canhestro MR. Doença que está na mente e no coração da gente: um estudo etnográfico do impacto da doença crônica na família[dissertação]. Belo Horizonte (MG):Universidade Federal de Minas Gerais; 1996.
Petean E, Murata M. Paralisia cerebral: conhecimento das mães sobre o diagnóstico e o impacto deste na dinâmica familiar. Paidéia.2000;10(19):40-6.
Funck MA, Machado DM. Participação da psicologia no atendimento ao portador de deficiência auditiva. Temas Desenvolv.1996;5(27):27-32.
Guazzelli ME. O cenário da orientação famíliar na paralisia cerebral [dissertação]. São Paulo(SP): Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo; 2001.
Rosemberg J. Perda e luto. Temas Desenvolv. 1996;5(27):14-7.
Barros A. Outras estórias que “meu pé esquerdo” pode contar: uma etnografia da deficiência física na paralisia cerebral do tipo atetóide [dissertação]. Salvador (BA): Instituto em Saúde Coletiva da Universidade Federal da Bahia; 1998.
Silva NLP, Dessen MA. Deficiência mental e família: implicações para o desenvolvimento da criança. Psicol Teor Pesqui. 2001;17(2):133-41.
Souza E. Sentimentos e reações de pais de crianças epilépticas. Arq Neuropsiquiatr. 1998;56(1):39-44.
Brunhara F, Petean E. Mães e filhos especiais: reações, sentimentos e explicações à deficiência da criança. Paidéia. 1999;9(16):31-40.
Ribeiro MT. Psicologia da família: a emergência de uma nova disciplina In: Ribeiro MT. Família: contributos da psicologia e das ciências da educação. Lisboa: Educa; 1997. p. 29-39.
Brito A, Dessen MA. Crianças surdas e suas famílias: um panorama geral. Psicol Reflex Crít. 1999;12(2):429-45.
Silva CN. Como o câncer (des)estrutura a família. São Paulo: Anablume; 2000.
Dessen MA, Silva IN. Deficiência mental e família: uma análise da produção científica. Paidéia. 2000;10(19):12-23.
Robertson L. A pior lição: aprender a aceitar. In: Meyer D. Pais de crianças especiais: relacionamento e criação de filhos com necessidades especiais. São Paulo: Makron Books do Brasil; 2004. p. 29-39.
Downloads
Published
Issue
Section
License
CODE OF CONDUCT FOR JOURNAL PUBLISHERS
Publishers who are Committee on Publication Ethics members and who support COPE membership for journal editors should:
- Follow this code, and encourage the editors they work with to follow the COPE Code of Conduct for Journal Edi- tors (http://publicationethics.org/files/u2/New_Code.pdf)
- Ensure the editors and journals they work with are aware of what their membership of COPE provides and en- tails
- Provide reasonable practical support to editors so that they can follow the COPE Code of Conduct for Journal Editors (http://publicationethics.org/files/u2/New_Code.pdf_)
Publishers should:
- Define the relationship between publisher, editor and other parties in a contract
- Respect privacy (for example, for research participants, for authors, for peer reviewers)
- Protect intellectual property and copyright
- Foster editorial independence
Publishers should work with journal editors to:
- Set journal policies appropriately and aim to meet those policies, particularly with respect to:
– Editorial independence
– Research ethics, including confidentiality, consent, and the special requirements for human and animal research
– Authorship
– Transparency and integrity (for example, conflicts of interest, research funding, reporting standards
– Peer review and the role of the editorial team beyond that of the journal editor
– Appeals and complaints
- Communicate journal policies (for example, to authors, readers, peer reviewers)
- Review journal policies periodically, particularly with respect to new recommendations from the COPE
- Code of Conduct for Editors and the COPE Best Practice Guidelines
- Maintain the integrity of the academic record
- Assist the parties (for example, institutions, grant funders, governing bodies) responsible for the investigation of suspected research and publication misconduct and, where possible, facilitate in the resolution of these cases
- Publish corrections, clarifications, and retractions
- Publish content on a timely basis